Situando Nietzsche (1844-1900)
Vilmar Alves Pereira[1]
A tradição ocidental teve por base no decorrer de sua história ideais metafísicos. Defendeu uma idéia de razão, sujeito, Deus, educação, infância e natureza humana que davam sustentação as explicações sobre os fins últimos do homem. A modernidade é o período por excelência de coroamento de diversos desses ideais. Por exemplo; a idéia de um sujeito que dá sentido a tudo, que cria e tem possibilidade de representar a realidade é moderna.
A crítica que Nietzsche (1844-1900) opera à concepção metafísica de sujeito está diretamente ligada a esse sujeito que pretende ser portador de sentido ao mundo. Nietzsche é muito explícito na sua crítica, colocando-se como alguém que não mais atribui credibilidade alguma as diversas formas de emancipação sugeridas no bojo da modernidade. Disso resulta que, para lermos Nietzsche, é necessário que estejamos livres de preconceitos, possibilitando assim uma melhor localização no entendimento de sua obra. O próprio autor desejava que a leitura de suas obras fosse feita por pessoas “com espíritos livres”.
Para Giacóia, a critica de Nietzsche a subjetividade metafísica parte de uma leitura anterior onde identifica na doutrina das idéias de Platão os primeiros traços dessa subjetividade e entende Giacóia, que essa doutrina, “lança uma ponte até a modernidade filosófica na medida em que constitui uma inestimável preparação do idealismo kantino tematizando a seu modo a oposição entre o fenômeno e a coisa em si, com a qual tem início toda a filosofia profunda” (GIACÓIA, 2005, p. 12). Complementa que assim como Nietzsche, Platão foi quem, a partir da Leitura de Heráclito Transvalorou em seu tempo ao mesmo tempo em que estabeleceu as bases do idealismo dogmático. De lá para cá a tradição ocidental teria optado pelo Apolínio e não pelo dionisíaco como Nietzsche tão bem descreve em O Nascimento da Tragédia.
Em Sobre verdade e mentira no sentido extra-moral, texto publicado em 1873, Nietzsche estabelece uma forte crítica ao sujeito metafísico, principalmente aquele sujeito que se concebe como conhecedor e que, de certa forma, é aquele que dá sentido ao mundo. Nesse texto, Nietzsche vê o conhecimento como uma grande invenção para a conservação da espécie humana.
No entanto, o fato de o homem inventar o conhecimento para se conservar não se constitui numa verdade; ao contrário, é uma espécie de malogro. A grande questão para Nietzsche, no que diz respeito à sua análise do sujeito, é buscar mostrar ao homem que ele não é nenhum ser excepcional. O fato de ele usar seu intelecto, na maioria das vezes, ao invés de engrandecê-lo, o diminui: “Quão sem finalidade e gratuito fica o intelecto humano dentro da natureza.” (NIETZSCHE, 1974, p.53.) O homem, destituído de todos os seus ‘a priori’, que lhe davam sustentabilidade, sente-se numa condição em que deve criar formas para se autoconservar, e, é nesse sentido que muitos homens usam o intelecto deixando transparecer que estão criando conhecimentos novos, quando, na verdade, estão apenas se autoconservando. Nesse ponto, Nietzsche critica os filósofos pela prepotência de serem esses criadores, por pensarem que possuem uma melhor cosmovisão.
Para Nietzsche, o intelecto, essa faculdade que a ela foi atribuída tanta confiança, principalmente no que tange à concepção metafísica de sujeito, age como uma arte de enganar. Isso aparece até mesmo nas estimativas de valor que tecemos. É o homem, segundo Nietzsche, que consegue estampar essa forma de malogro:
No homem esta arte de disfarce chega a seu ápice; aqui o engano, o lisonjear, mentir e ludibriar, o falar por trás-das-costas, o representar, o viver em glória de empréstimo (...) em suma, o constante bater de asas em torno dessa única chama que é a vaidade, é a tal ponto a regra e a lei que quase nada é mais inconcebível do que como pôde aparecer entre os homens um honesto impulso a verdade. (NIETZSCHE, 1974, p.54.)
Em Nietzsche, a sua descrença é tanta no sujeito que se afirma como esclarecido e conhecedor, a ponto de ele identificar a sua vida como uma mentira. Seria o sujeito metafísico uma mentira? Sim! Para Nietzsche, as representações desse sujeito são apenas para sua conservação. Vejamos que o homem se encontra numa condição em que erra mais do que acerta, mesmo de posse e uso de seu intelecto. E, para que o homem não acabe caindo na velha máxima hobbesiana de “guerra de todos contra todos”, segundo Nietzsche, ele usa do intelecto, para estabelecer uma espécie de tratado de paz. É justamente aqui, na luta pela vida, que devem estar os primeiros impulsos a verdade. Uma decorrência natural desse processo em Nietzsche é a necessidade da constituição de uma lei para orientar as ações humanas na direção da preservação da vida. Novamente aqui, o homem querendo se preservar inventa mais uma forma de malogro, a linguagem: “Agora, com efeito, é fixado aquilo que doravante deve ser “verdade”, ou seja, é descoberta uma designação uniformemente válida e obrigatória das coisas, e a legislação da linguagem dá também as primeiras leis da verdade” (NIETZSCHE, 1974, p.54).
Na citação acima, é possível perceber um ataque de Nietzsche a mais um dos aparatos seguros do sujeito que até então havia se constituído: um sujeito que havia criado uma forma e uma linguagem clara de explicar os fenômenos. A subjetivação do mundo, que até então havia imperado, passa agora pela malha da desconfiança e é vista apenas como uma necessidade que o homem possui de se conservar. A verdade contida na lei, por mais que seja enganosa, deve ser buscada.
Nietzsche continua sua crítica a esse sujeito que se ocupa com as formas de aplicação da linguagem inventando, criando significações ao mundo: “Dividimos as coisas por gêneros, designamos a árvore como feminina, o vegetal como masculino: que transposições arbitrárias, que preferências unilaterais...” (NIETZSCHE, 1974, p.55).
Com Nietzsche, toda a modernidade é convidada a passar por um processo de autocrítica. A sua crítica possui um direcionamento bem claro: ataca aqueles que criaram explicações ao mundo e pretenderam que as mesmas fossem verídicas. Há também em sua crítica algumas ironias diretas a Kant, que para Nietzsche, tentando fugir da velha metafísica e buscando encontrar um caminho seguro para a ciência, acaba valendo-se de uma linguagem e de expressões muitas vezes impossíveis de serem assimiladas, caindo novamente na metafísica, obviamente, utilizando outras categorias. Um exemplo de que para Nietzsche isto pode ser identificado está na chamada coisa em si kantiana: “ ‘A coisa em si’ (tal seria puramente a verdade pura sem conseqüências) é, também para o formador da linguagem, inteiramente incaptável e nem sequer algo que vale a pena” (NIETZSCHE, 1974, p.55).
Representando um ícone da subjetividade metafísica, Kant recebe severas críticas de Nietzsche, pois ele, esse sujeito criador de sentido que se ensaia com todas as suas pretensões, não tem um papel fundamental. Discorrendo sobre Kant ainda, Nietzsche afirma que o seu grande orgulho teria sido a criação da sua tábua de categorias vinculada a descoberta da nova faculdade dos juízos sintéticos apriori. Nietzsche entende que essa descoberta recebeu pelo estatuto da filosofia um valor demasiado. Mediante isso, sugere uma inversão axiológica na formulação da pergunta kantiana no que consiste ao ponto de clivagem de sua descoberta: “porém respostas destas cabem bem numa comédia e já é tempo de substituir a pergunta de Kant “como são possíveis os juízos sintéticos apriori?”, por uma outra: por que é preciso acreditar nesses juízos?” (NIETZSCHE, 2002, par.11).
Assim como Kant, toda a tradição que criou uma linguagem para legitimar uma posição privilegiada ao sujeito ocidental passa pela crítica nietzscheniana. Os signos que constituem a linguagem são, para Nietzsche, apenas metafísicas que não deram conta de uma explicação segura da realidade, pois estavam apoiados numa linguagem metafísica que criou um destino inatingível ao sujeito. Como filólogo, o ataque de Nietzsche está direcionado as categorias lingüísticas que a tradição ocidental utilizou para adjetivar a realidade e, é claro, o sujeito. Isso pode ser percebido se tomarmos como referência as diferentes acepções de homem e os diferentes caminhos por eles trilhados que aparecem no Nascimento da Tragédia como tentativas de adjetivar a realidade. Desde o dualismo platônico, passando pelo dilema do sujeito medieval, que deve rejeitar o presente em nome de uma pátria que não é terrena; avançando na modernidade, temos o sujeito pensante cartesiano; o próprio homem hobbesiano, que cria formas ímpares para superar o estado de guerra; o sujeito rousseauniano que se apóia numa vontade geral, quase divina como instrumento para o sujeito viver de forma democrática e harmoniosa. Posteriormente, o aparecimento de um sujeito transcendental kantiano que almejava se afirmar como portador de sentido da realidade. Tudo isso para Nietzsche não passa de uma criação lingüística metafísica, pois seus esforços não corroboraram com a realidade.
Sugerindo uma outra pergunta a Kant, Nietzsche ataca os fundamentos da subjetividade iluminista e destrona as bases em que ela se encontra ancorada: as categorias mentais.
Até agora, pudemos perceber a crítica de Nietzsche à metafísica, ao intelecto e ao que concebemos como verdade. Sem dúvida, partindo de sua análise, como decorrência natural emerge a seguinte curiosidade: O que é para Nietzsche a verdade? Em Sobre Verdade e mentira no sentido extra-moral, texto aqui em estudo, Nietzsche, além de criticar o filósofo, vendo-os como falsos construtores de verdades, tem um conceito de verdade que provoca um “corte epistemológico[2]” na forma como entendemos e concebemos o sujeito moderno. As explicações que damos ao mundo mudam radicalmente de sentido à medida que contrastadas com seu conceito de verdade:
O que é a verdade, portanto? Um batalhão móvel de metáforas, metonímias, antropomorfismos, enfim, uma soma de relações humanas, que foram enfatizadas poéticas e retoricamente, transpostas, enfeitadas, e que, após longo uso, a um povo sólidas, canônicas e obrigatórias: as verdades são ilusões, das quais se esquecem que o são, metáforas que se tornaram gastas e sem força sensível, moedas que perderam sua efígie e agora só entram em consideração como metal, não mais como moedas. (NIETZSCHE, 1974, p.56).
O desencanto de Nietzsche é o desencanto relacionado ao sujeito que, para ele, constituiu falácias para poder, mediante situações de necessidade e fraqueza, se identificar como um sujeito capaz de explicar e dar sentido ao cosmos no qual está imerso. Com seu entendimento sobre verdade, Nietzsche derruba as estruturas seguras, os itinerários claros e concisos e as morais mais puras e corretas que tinham um “télos” aparentemente bem definido: levar o homem a um estágio mais evoluído.
Ainda em relação a essa questão da verdade em Para Além do Bem e do Mal, criticando os filósofos como aqueles que criam preconceitos nas pessoas e se consideram os indicadores da verdade metafísica, Nietzsche, mais uma vez, aponta para a possibilidade de uma outra pergunta que não está direcionada aos “télos” do sujeito aí constituído: “considerando que queremos a verdade: Por que não havíamos de preferir a não-verdade? Talvez a incerteza? Quem sabe a ignorância?” (NIETZSCHE, 2002, par.1)
Esse equívoco, para Nietzsche, é decorrente de uma condição natural no homem: é um ser propenso a deixar-se enganar. Ou seja, o intelecto, ao invés de proporcionar um melhor direcionamento ao homem, acaba por ser e continuar sendo esse “mestre do disfarce”.
Longe de querer oferecer saídas para Nietzsche, uma das formas de enfrentamento da realidade pode ocorrer pela arte, pois o homem intuitivo e o homem racional, estando ambos com o anseio de domínio sobre a vida, se equivalem no que tange à irracionalidade. A única diferença é que o homem intuitivo, pela arte, consegue captar a vida num sentido mais genuíno: “O homem intuitivo, em meio a uma civilização, colhe desde logo, já de suas intuições, fora a defesa contra o mal, um constante e torrencial contentamento, entusiasmo e redenção.” (NIETZSCHE, 1974, p.60). Nietzsche alerta para o fato de que o homem intuitivo não está livre do erro, mas no erro, na infelicidade, até o seu sofrimento é mais autêntico, diferente do homem racional que busca trapacear até a infelicidade.
O sujeito em Nietzsche não encontra a verdade naquilo que até então fora concebido como verdade. Isso significa afirmar que a verdade não emerge da pretensa racionalidade do sujeito metafísico, mas de uma “irracionalidade” que se dispõe a criar constantemente; nisso Nietzsche se localiza como perspectivista.
O perspectivismo de Nietzsche pode ser resumido na famosa frase: ''Não existem fatos, só interpretações.'' Essa afirmação tem conseqüências complexas, uma delas dizendo respeito ao lugar de destaque que a ciência moderna conquistou na sociedade contemporânea. Com base no pressuposto de discurso neutro, objetivo e absolutamente descritivo, a ciência fez da verdade e do conhecimento seu latifúndio exclusivo. Mas a perspectiva nietzschiana levanta a suspeita de que não há uma verdade absoluta e coloca a ciência no mesmo patamar das artes e das religiões, como apenas uma entre as muitas possíveis interpretações da realidade. Silvia Pimenta procura mostrar que o perspectivismo pressupõe uma ontologia, ainda que negativa. O perspectivismo não é mera inversão da metafísica, ou seja, mera substituição dos tradicionais elogios à alma e à racionalidade por um elogio ao corpo, à natureza e à arte. Num mundo sem fundamento, como Nietzsche o concebe o acaso, entendido como a ausência de racionalidade, contamina necessariamente tudo.
Em Para Alem do Bem e do Mal, sugerindo uma filosofia do futuro aponta para a necessidade de espíritos muito livres capazes de transvalorar as noções que predominam nos juízos existentes, “devemos livrar-nos do mau gosto de querermos estar de acordo com muitos. “Bom”, devia ser bom quando dito pelo vizinho. E como é que poderia haver um bom comum”! A palavra contradiz-se em si mesma. Aquilo “que pode ser comum tem sempre pouco valor” (NIETZSCHE, 2002, par. 43).
Mudança de valores e descrédito nos fundamentos universais que embasam o sujeito moderno são alguns preceitos de uma nova acepção filosófica mais livre da crença nos fundamentos da metafísica da subjetividade. A ruptura que Nietzsche estabelece ao sujeito metafísico abala toda a concepção ocidental de ser, e é esse impulso que leva a tradição mais tarde a repensar a metafísica.
Como já mencionamos, a crítica que Nietzsche estabelece é uma crítica que transcende pequenas instâncias. Ela levanta e nos sugere uma série de suspeitas em todas as nossas verdades, nossas instituições, nossos “portos-seguros”. O homem, este projeto infinito, anseia constantemente alcançar um lugar seguro e uma felicidade plena. Isto não é possível ser encontrado na perspectiva do sujeito em Nietzsche. A morte de Deus que Nietzsche propõe em suas obras não se dirige apenas ao Deus concebido pelas religiões clássicas dos pastores e rebanhos, mas a toda a metafísica ocidental. Para Nietzsche, o homem enganou-se sobre o sentido da vida, buscando encontrar transcendências que não eram alcançáveis, buscando verdades que eram puras metáforas.
Com sua crítica, Nietzsche não quer acabar com as instituições e com a vida das pessoas; ao contrário, em toda a sua obra há um aspecto central, que é a defesa da vida. Não uma vida que deve ser pré-determinada e cheia de ‘teleologias’, mas uma vida que deve ser criada a cada instante. Nietzsche também não nega a razão, apenas a usa sob outra perspectiva, não como uma inventora do conhecimento e nem como a faculdade que constitui uma legião de senhores para imperar sobre os rebanhos. Com Nietzsche, o homem adjetivado historicamente como racional perde seu poder, sua prepotência e seu status.
As decorrências da concepção de sujeito de Nietzsche para as ciências da educação podem proporcionar excelentes reflexões.
[1] Doutor em Educação pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul (linha de pesquisa Filosofia e Educação) e Professor de Filosofia da Educação na Faculdade Anglo Americano de Caxias do Sul. Integrante do Grupo de Pesquisa CNPQ- da PUC-RS- Racionalidade e Formação.
[2] Expressão utilizada para demarcar uma ruptura entre um paradigma e outro cf JAPIASSU, op.cit. p.26.
[2] Expressão utilizada para demarcar uma ruptura entre um paradigma e outro cf JAPIASSU, op.cit. p.26.

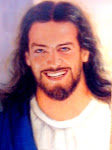
Nenhum comentário:
Postar um comentário